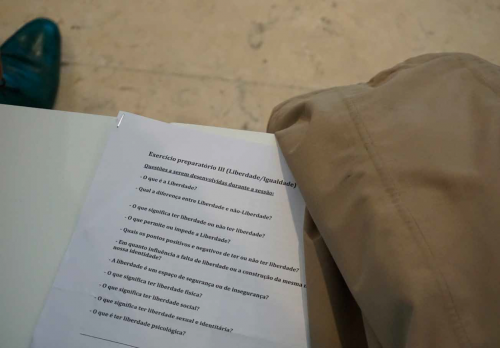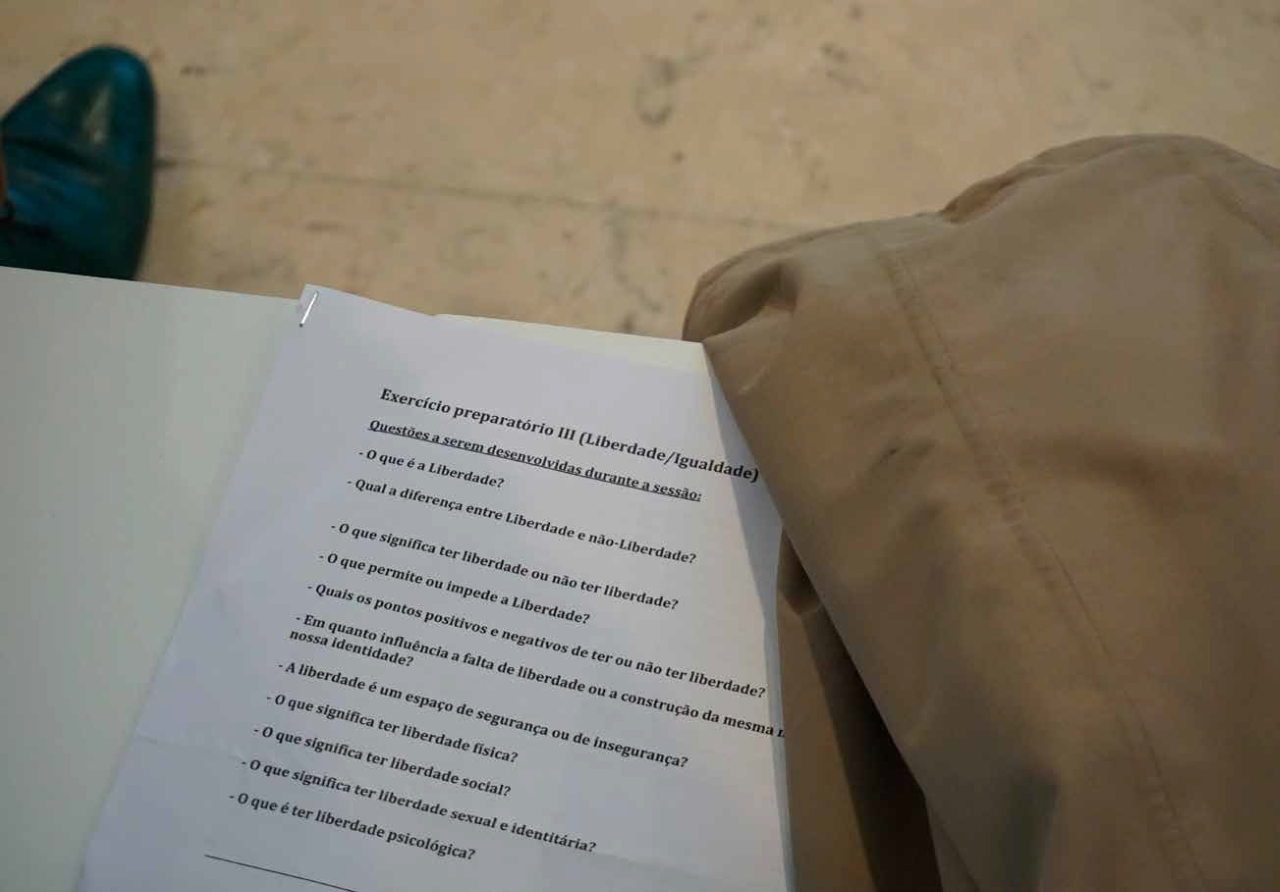De todas as antigas potências coloniais, Portugal continua a ser um dos países com passado colonial onde o debate sobre o racismo é ainda dos mais imaturos e menos clarificadores, porquanto instalado numa quimera histórica caracterizada pelo luso-tropicalismo, também ele construído num embuste histórico segundo o qual o colonialismo português teria sido, em comparação com as restantes violações coloniais, o mais generoso e menos violento. Esta premissa assente numa falácia histórica, minada por um misto de proselitismo ideológico e de revisionismo teórico sobre os impactos devastadores da empresa colonial, vai ganhando sedimentação cultural e dificultando um debate sério e frontal sobre o racismo. Em Portugal, o racismo e a sua negação são marcadores no debate público sobre o lugar da diferença numa sociedade que continua a pensar-se culturalmente homogénea, pois estrutural e historicamente ancorada numa herança colonial cuja catarse histórica ainda está por concretizar.
A questão da diversidade étnico-racial e a disputa pela sua visibilidade no espaço público e na disputa pelo poder de representação política obrigam a uma análise mais fina do deslize ideológico que densificou o racismo na prática social e cultural da sociedade. A ideologia racista que se solidificou como racismo cultural socorre-se de outros instrumentos teóricos e políticos para ganhar legitimidade social e política.
A transmutação do racismo ideológico numa realidade cultural transversal a todas as esferas da sociedade tem levado à sua banalização e tornado muito mais difícil enfrentar a normalização da violência nas práticas sociais quotidianas e nas interações institucionais.
O racismo que encontra expressão na dimensão económica, cultural, social e política, enquanto resultado do eurocentrismo que construiu a necessidade de marcar, distinguir e afastar grupos étnicos racializados da comunidade humana, na base da sua cor de pele e/ou cultura, está cada vez mais enquistado cultural e politicamente na sociedade portuguesa. A alavanca principal desta empresa de desumanização dos grupos étnicos racializados assentou no poder de construir os mitos que justificaram sempre o racismo.
Portanto, longe de constituir um mero repositório de preconceitos inconscientes e inofensivos, como muitas vezes se procura fazer crer, a análise da situação política, com o fortalecimento dos fascismos e a ascensão da extrema-direita um pouco em toda a parte na Europa, não deixa de mostrar que o racismo permanece uma conjugação das práticas políticas institucionais contemporâneas com a ideologia esclavagista, imperial e colonial. O racismo ciganófobo e negrófobo, bem como a islamofobia declarada ou difusa, é uma instituição que resulta da tradição filosófica e política que sempre considerou – e ainda considera – os ciganos, os negros e todos os outros povos “não brancos” como inferiores.
Ao longo destes séculos, em Portugal e por todo o ocidente, o racismo ideológico consolidou-se e aprofundou-se no racismo institucional que legitimou e ainda legitima o racismo sociológico, ou melhor, o racismo cultural. Antes, durante e depois das violações esclavagistas e coloniais, o racismo manteve sempre um traço característico idêntico: a negação da humanidade a uma parte substancial da humanidade. E, durante muito tempo, a fronteira entre cultura e política na construção do racismo institucional foi muito ténue. Ora era a cultura que justificava a política, ora era o contrário. A organização política e a catalogação cultural sustentaram sempre o racismo de Estado, eufemisticamente chamado racismo institucional. Por exemplo, em 1926, escrevia-se o seguinte no Estatuto do Indigenato: “Não se atribuem aos indígenas, por falta de significado prático, os direitos relacionados com as nossas instituições constitucionais. Não submetemos a sua vida individual, doméstica e pública […] às nossas leis políticas, aos nossos códigos administrativos, civis, comerciais e penais, à nossa organização judiciária”. Três anos depois, em 1929, o segundo artigo deste estatuto revisto referia taxativamente “os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nas colónias, não possuíssem ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses”. Ou seja, mesmo depois da abolição da Escravatura e da instituição da república, a desumanização era o fundamento estrutural da organização social e política na relação do país com as pessoas não brancas.
O substrato cultural da ciganofobia atual é igualmente denso e velho e encontra-se muito profundamente enraizado na história institucional do nosso país. Sobre as comunidades ciganas, por exemplo, podia-se ler, num decreto real de 1649, barbaridades como estas: “Eu El Rey […] por se ter entendido o grande prejuízo e inquietação que se padece no Reino com huma gente vagamunda que cõ o nome de siganos andam em quadrilhas vivendo de roubos enganos e imbustes contra o serviço de Deus e meu. Demais das ordenações do Reino, por muitas leis e provisões se precurou extinguir este nome e modo de gente vadia de siganos com prizoens e penas de asoutes, degredos e galés, sem acabar de conseguir; e ultimamente querendo Eu desterrar de todo o modo de vida e memoria desta gente vadia, sem asento, nem foro nem Parochia, sem vivenda propria, nem officio mais que os latrocinios de que vivem, mandey que em todo Reino fossem prezos e trazidos a esta cidade [Lisboa], onde serão embarcados e levados para servirem nas comquistas divididos”.
Os ciganos eram punidos com açoites e degredados por dez anos ou mais para as colónias por apenas serem ciganos, como atesta um decreto real do século dezoito. Neste decreto, entre outras considerações ultrajantes, sentenciavam-se coisas como esta: “Hei por bem, e mando que não haja neste Reino pessoa alguma de um, ou de outro sexo, que use de traje, língua, ou giringonça de ciganos, nem de impostura das suas chamadas buenas dichas; e outrosim, que os chamados Ciganos, ou pessoas que como tais se tratarem, não morem juntos mais, que até duas casas em cada rua, nem andarão 37 juntos pelas estradas, nem pousarão juntos, por elas, ou pelos campos, nem tratarão em vendas, e compras, ou troca de bestas, senão que no traje, língua e modo de viver usem do costume da outra gente das Terras; e o que contrário fizer, por este mesmo fato, ainda que outro delito não tenha, incorrerá na pena de açoites, e será degredado por tempo de dez anos; o qual degredo para os homens será de galés, e para as mulheres, para o Brasil”.
Portanto, afigura-se evidente que a ossatura institucional das sociedades contemporâneas é herdeira da desumanização e da despossessão da dignidade que andaram quase sempre de mãos dadas para justificar a discriminação racial que sustentou a empresa colonial portuguesa e continua a marcar as relações sociopolíticas atuais.
O fortalecimento da extrema-direita na Europa em geral e todos os episódios racistas dos últimos anos em Portugal que antecederam a sua recente legitimação institucional consubstanciam objetivamente continuidades históricas que duram há séculos e se reinventam ciclicamente em função das relações de força ideológica, mas sempre solidamente ancoradas no eurocentrismo. Desta feita, mais do que nunca, é hoje visível que o racismo não só não passou, como continua cada vez mais bem presente cultural e politicamente na nossa sociedade. Infelizmente, vamos constatando que, por detrás de muitos atos administrativos, iniciativas legislativas, decisões jurídicas ou posições políticas sobre pessoas não brancas no país, se esconde “o racismo como albergue selvagem do humanismo europeu, a sua besta” a coberto “[d]o sombrio véu da cor” da pele e/ou da diferença cultural.
O iluminismo e o universalismo são geralmente apresentados como sendo momentos históricos, políticos e culturais com pretensão de elevar a exigência de um humanismo radical e intransigente contra a barbárie e o atraso civilizacional. O iluminismo e o universalismo são assim culturalmente considerados os marcadores genéticos da modernidade e os momentos históricos da catarse moral contra o obscurantismo e a barbárie. Ora, esta é uma visão bastante romantizada e muito discutível.
Na verdade, de todos os clássicos destes períodos, ou seja, de Hegel a Kant, passando por Hume, Tocqueville, Montesquieu, Comte, Durkheim e tantos outros – em cujo pensamento assentam hoje as bases teóricas e filosóficas dos modelos ideológicos que norteiam a disputa política –, nenhum deles escapa ao mais ordinário dos racismos. Todos eles acreditavam na superioridade civilizacional e cultural dos europeus. “Suspeito que os Negros e, em geral, as outras espécies humanas de serem inferiores à raça branca. Não houve nunca nenhuma outra nação civilizada que a de cor branca”, sentenciou, por exemplo, David Hume.
E, em Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, para sustentar a tese de Hume, escrevera Kant, por sua vez: “Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um Negro tenha mostrado talentos, e afirma: «dentre os milhões de pretos que foram deportados dos seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão; já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto à diferença de cores». A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria, que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece possível à natureza humana”.
Frantz Fanon diagnosticou muito cedo as imbricações entre os processos ideológicos e os mecanismos culturais de fabricação e consolidação do racismo, enquanto espaço de hierarquização. Em setembro de 1956, na sua intervenção no Primeiro Congresso dos Escritores e Artistas Negros em Paris, declarou que “a reflexão sobre o valor normativo de certas culturas, decretado unilateralmente, merece que lhe prestemos atenção” e revela que um dos “paradoxos que mais rapidamente encontramos é o efeito de ricochete de definições egocentristas, sociocentristas”. Lembra ainda que o processo consiste sistematicamente em afirmar a “existência de grupos humanos sem cultura; depois, a existência de culturas hierarquizadas; por fim, a noção da relatividade cultural. Da negação global passa-se ao reconhecimento singular e específico. É precisamente esta história esquartejada e sangrenta que nos falta esboçar ao nível da antropologia cultural”. Por último, afirma Fanon que a “doutrina da hierarquia cultural não é, pois, mais do que uma modalidade da hierarquização sistematizada, prosseguida de maneira implacável. Estudar as relações entre o racismo e a cultura é levantar a questão da sua ação recíproca. Se a cultura é o conjunto dos comportamentos motores e mentais nascido do encontro do homem com a natureza e com o seu semelhante, devemos dizer que o racismo é sem sombra de dúvida um elemento cultural”.
O fundamento biológico do racismo para justificar a violência esclavagista e colonialista alcandorou-se nas “luzes” do iluminismo e do universalismo. Hegel, um dos maiores baluartes do pensamento ocidental da época, declarou que “a principal característica dos negros é que sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade, e onde ele teria uma ideia geral de sua essência […]. Devemo-nos livrar de toda a reverência, de toda a moralidade e de tudo o que chamamos sentimento, para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia do caráter humano […] A carência de valor dos homens chega a ser inacreditável. A tirania não é considerada uma injustiça, e comer carne humana é considerado algo comum e permitido […] Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos – ou, para ser mais exato, inexistentes”.
Augusto Comte, no seu clássico Curso de Filosofia Positiva, perguntou “por que a raça branca possui, de modo tão pronunciado, o privilégio efetivo do principal desenvolvimento social e por que a Europa tem sido o lugar essencial dessa civilização preponderante” e respondeu sem pestanejar que “sem dúvida já se percebe, quanto ao primeiro aspeto, na organização característica da raça branca, e sobretudo quanto ao aparelho cerebral, alguns germes positivos de sua superioridade”.
Analisando “o futuro provável das três raças que habitam o território dos Estados Unidos”, Tocqueville disse na célebre obra Da democracia na América que “o primeiro que atrai os olhares, o primeiro em saber, em força, em felicidade, é o homem branco, o europeu, o homem por excelência; abaixo dele surgem o negro e o índio. Essas duas raças infelizes não têm em comum nem o nascimento, nem a fisionomia, nem a língua, nem os costumes. Ocupam ambas uma posição igualmente inferior no país onde vivem”. E, mais adiante, escreve que “o escravo moderno não difere do senhor apenas pela liberdade. Mas ainda pela origem. Pode-se tornar livre o negro, mas não seria possível fazer com que não ficasse em posição de estrangeiro perante o europeu. E isso ainda não é tudo: naquele homem que nasceu na degradação, naquele estrangeiro introduzido entre nós pela servidão, apenas reconhecemos os traços gerais da condição humana. O seu rosto parece-nos horrível, a sua inteligência parece-nos limitada, os seus gostos são vis, pouco nos falta para que o tomemos por um ser intermediário entre o animal e o homem”.
Se considerarmos a cultura como espaço de sedimentação da produção dos laços sociais e políticos, das aprendizagens, dos saberes e dos conhecimentos, percebemos, à luz destes pequenos excertos de alguns dos mais importantes pensadores europeus, a ligação intrínseca entre a gestão política da diversidade étnico-racial e a produção cultural do racismo no imaginário coletivo nas sociedades pós-coloniais europeias. Há um cordão umbilical que liga o racismo contemporâneo à construção identitária e cultural europeia.
Edward Said identificou bem esta circunstância ao sublinhar que “os filósofos podem conduzir suas discussões sobre Locke, Hume e o empirismo sem nunca levar em consideração o fato de que há uma conexão explícita, nesses escritores clássicos, entre as suas doutrinas “filosóficas” e a teoria racial, as justificações da escravidão e a defesa da exploração colonial”, acrescentando, na mesma ordem de ideias, que “muitos humanistas de profissão são, em virtude disso, incapazes de estabelecer a conexão entre, por um lado, a longa e sórdida crueldade de práticas como a escravidão, a opressão racial e colonialista, o domínio imperial e, por outro, a poesia, a ficção e a filosofia da sociedade que adota tais práticas”. O que consequentemente levou a que humanidade fosse dividida na base de “uma hierarquia de raças que desumanizou” outros povos e as suas culturas.
Nos meados da década de 50 do século passado, antes de Edward Said e, com a clareza e a frontalidade que lhe são inerentes, Fanon disse: “a realidade é que um país colonial é um país racista. Se na Inglaterra, na Bélgica ou em França, apesar dos princípios democráticos afirmados respetivamente por estas nações, ainda há racistas, são esses racistas que, contra o conjunto do país, têm razão”. Ou seja, apesar da polidez das convenções teóricas retóricas sobre ética e moral democráticas, o racismo subsiste porque ele é constituinte da matriz ideológica do regime culturalmente vigente.
Assim, as discriminações reverberam em construções políticas que operam como mecanismos culturais de diminuição e estigmatização do outro para impor a homogeneização castradora do direito à diferença.
Nas sociedades europeias pós-coloniais, contra grupos étnicos não brancos, opera uma agenda homogeneizadora hegemónica contra a diferença. Reifica-se a diabolização dos valores culturais, das formas e modelos de vida, tais como a linguagem, o vestuário e as formas de relação das pessoas não brancas com o mundo, para justificar a sua marginalização com o pretexto de que são incompatíveis com “a civilização europeia”.
As culturas não brancas são desvalorizadas e ameaçadas de destruição e, muitas vezes, destruídas mesmo. Noutra instância, Fanon dizia justamente a este respeito que “a acusação de inércia que constantemente se faz ao «indígena» é o cúmulo da má-fé. Como se fosse possível que um homem evoluísse de modo diferente que não no quadro de uma cultura que o reconhece e que ele decide assumir”.
Pode-se essencialmente dizer que a acusação de inadequação cultural por suposta “recusa” e/ou “incapacidade de integração social” das comunidades não brancas na ordem cultural maioritária resulta de uma estratégia de ostracização da diferença. A frequente acusação de falta de urbanidade e de civilidade contra as minorias étnicas, nomeadamente contra as comunidades ciganas, os afrodescendentes, os imigrantes e seus descendentes, é uma estratégia de estigmatização cultural.
Da biologização à essencialização das pessoas não brancas, o racismo foi-se adaptando aos tempos e às suas narrativas, usando múltiplos dispositivos políticos de exclusão e vários mecanismos institucionais de confinamento espacial, social, cultural e político das comunidades racializadas. A situação de vulnerabilidade económica, social e política acaba por agudizar a exclusão cultural, empurrando as comunidades para uma espécie de “clandestinidade identitária” por falta de reconhecimento e de espaço de afirmação cultural.
É de sublinhar que, até há bem pouco tempo, a presença no espaço público de pessoas racializadas era quase nula e que sempre que ocorre – ou quando ocorre – é muita das vezes claramente num registo subalterno. A este propósito, e mais genericamente sobre a marginalização cultural e a luta pelo direito ao reconhecimento cultural, Stuart Hall dizia, por exemplo, ao falar do papel da música na afirmação das comunidades, que a música é símbolo do “som do que não pode ser” (the sound of what can not be).
Grosso modo, pode-se afirmar que a retórica elogiosa da diversidade étnico-cultural no discurso político não corresponde à realidade, pode até esconder uma relação colonial e racista entre a maior parte dos países europeus com as suas comunidades racializadas.
Por exemplo, quando, de forma arrogante e impositiva, os países europeus insistem que os imigrantes têm de aprender as línguas dos países de acolhimento, o que sugerem é que são aquelas as únicas que lhes permitem, não só apreender os códigos sociais e políticos dos seus novos contextos e habitas, mas, sobretudo, que as suas línguas nativas não permitem nem conseguem construir tais linguagens para apreender a complexidade da realidade dos seus novos contextos. O que é falso porque, não só estas línguas podem criar estes códigos (e têm-no feito), como demonstram poder reapropriar-se deles, resignificá-los e adequá-los aos seus valores culturais de origem. A prova desta capacidade de reapropriação e resignificação cultural é a forma como as segundas gerações constroem um espaço de reivindicação política e cultural de uma pertença cosmopolita através da música, da arte urbana e dos desportos alternativos.
A preocupação com a preservação dos valores culturais da maioria face à possível conspurcação por “contágios” culturais exógenos à “matriz nacional” prende-se com o fantasma da superioridade cultural herdada do imaginário eurocêntrico que enforma o orgulho nacional. É este fantasma que Stuart Hall disseca quando diz que “a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza”.
Deste ponto de vista, é interessante observar o quão patente está o incómodo nos sermões sobre urbanidade e civilidade na retórica sobre identidade cultural nacional contra a cultura urbana e suburbana que vai criando, pela recusa da homogeneidade cultural, espaços de resistência, afirmação e identificação cultural.
Em bom rigor, a crise de identidade de que tanto se fala na Europa a respeito das comunidades de origem estrangeira e imigrantes e seus descendentes reflete sobretudo o medo da diferença e, particularmente, o medo da possibilidade de dividir, em igualdade de circunstância e dignidade com sujeitos racializados, o poder de construir as narrativas sobre os espaços de pertença ao tecido nacional. Cada vez mais, nas sociedades pós-coloniais, como é o caso português, a língua, as diversas formas de expressão cultural e a diversidade étnica são espaços de narrativas e contra narrativas, seja através de mecanismos de essencialização redutora das diferenças, seja através de estratégias de reivindicação e resgate de identidades subalternizadas.
Algumas reconfigurações políticas sobre a “cultura nacional” estão a redundar num consenso político tácito entre as forças tradicionalmente progressistas e as forças conservadoras. Este consenso consiste em articular – através de uma agenda mínima instrumental no que concerne ao desenho de políticas culturais face à diversidade étnico- cultural das sociedades europeias pós-coloniais – um discurso de glorificação do passado colonial com uma retórica política sobre a importância do cosmopolitismo. Esta cedência dos setores progressistas face às retóricas protonacionalistas normativas da “identidade nacional” e da pertença cultural, com insidiosas declinações semânticas, desemboca na ostracização da diversidade étnica e coloca a cultura no epicentro de todas as fobias contra a diferença.
É, por isso, imprudente pensar que a abolição da escravatura, o fim do colonialismo com as independências das ex-colónias e a derrota militar do nazismo teriam significado a derrota lato sensus do racismo. Nem as derrotas militar e política do nazismo e do colonialismo, respetivamente, nem as suas “derrotas morais” significaram a derrota do racismo porque, ideologicamente, este se manteve estruturalmente enraizado na cultura popular, reinventando-se ciclicamente na disputa política institucional. O racismo cultural é estruturalmente uma espécie de regresso ao passado, tal como quando o suposto “recuo” ou “atraso civilizacional” era a sua justificação. De novo, todos os campos de todos os saberes e modalidades de ser e estar no mundo passaram a ser mobilizáveis para legitimar a mutação do racismo biológico para o racismo cultural.
Sob os vários ângulos de análise da questão racial em Portugal – espaço muito marcado pela herança colonial e pela doutrina institucional eurocêntrica –, ressalta uma polissemia expressiva do racismo, enformada por uma complexa teia de campos de afirmação do racismo cultural. Desde a forma de vestir e de comer, até aos sabores e aos cheiros, quase tudo pode servir de dispositivo para marcar, separar, afastar, acantonar e discriminar. A forma de ocupar o espaço, a disputa pela memória, os campos de apresentação e representação simbólica real e/ou fictícia de corpos racializados, a classe e o género, a produção cultural e artística, tudo isto está em jogo e é fortemente instrumentalizado para alimentar a cultura do racismo. Do cinema ao teatro, da história à literatura, da filosofia à antropologia, da sociologia às ciências políticas, da academia à política, o racismo é ainda a expressão de um passado que se mantém presente, de um passado que teima em não passar e de um futuro adiado, porque profunda e simbolicamente num imaginário coletivo mergulhado no tal passado que teima em não passar. Sobre a questão racial, o cinema, o teatro, a literatura, os media, a música, as artes plásticas e também outros saberes não académicos têm uma importância estratégica. Numa altura em que as identidades se tornaram armas de arremesso político para dividir e em que a cultura ocupa e ocupará – infelizmente, por muito tempo – uma centralidade sem precedentes na afirmação/contestação das diferenças, as fronteiras entre racismo e cultura tornar-se-ão cada vez mais perigosamente movediças. E disso poderá infelizmente resultar um maior fortalecimento do racismo. A escola que formata os imaginários e a cultura que os ossifica são os lugares prediletos de estufa, crescimento, sobrevivência e cristalização do racismo. Face a isto, o desafio que se impõe é saber identificar, entre muitas outras coisas, onde acaba a cultura e onde começa o racismo para, coletivamente, escolher que escola e que cultura queremos, para construir uma sociedade livre de discriminações.
Lisboa, 28/11/19